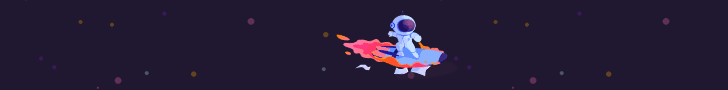Mass Culture
Cultura de massa refere-se tipicamente àquela cultura que emerge dos processos de produção centralizada dos meios de comunicação de massa. Deve-se notar, entretanto, que o status do termo é objeto de contínuos desafios – como na identificação de Swingewood (1977) como um mito. Quando está ligado à noção de sociedade de massa, torna-se então uma variante específica de um tema mais geral; a saber, a relação entre significados sociais e a alocação de oportunidades de vida e recursos sociais. Considerada como um repositório de significados sociais, a cultura de massa é um de um grupo de termos que também inclui cultura de alta (ou elite), cultura de vanguarda, cultura popular, cultura popular, e (subsequentemente) cultura pós-moderna. A interpretação e os limites de cada uma dessas categorias são rotineiramente objeto de debate e disputa. Isto torna-se particularmente evidente nas tentativas de definição ostensiva (ou seja, a citação de exemplos de cada termo e o raciocínio empregado para justificar a sua atribuição à categoria em questão). Em combinação, estes conceitos constituem um sistema de diferenças, de tal forma que uma mudança no significado de qualquer um dos seus termos é explicável através de, e pela, mudança na relação com os outros. Esses mesmos termos freqüentemente funcionam como categorias avaliativas que – seja tácita ou explicitamente – incorporam julgamentos sobre a qualidade daquilo que eles afetam para descrever.
Na sua introdução a Rosenberg and White’s Mass Culture Revisited (1971) Paul Lazarsfeld sugeriu que nos Estados Unidos, a controvérsia e o debate a respeito da cultura de massa floresceram mais claramente entre 1935 e 1955. Foi uma época em que o reconhecimento dos meios de comunicação de massa como uma força cultural significativa nas sociedades democráticas coincidiu com o desenvolvimento de formas totalitárias de controlo, associadas aos regimes e políticas dos meios de comunicação de Hitler e Estaline. A percepção das afinidades entre estes desenvolvimentos suscitou a preocupação de como melhor defender as instituições da sociedade civil, a cultura em geral e a alta cultura em particular, contra as ameaças que enfrentavam. Tais preocupações ajudaram a moldar o padrão do debate da cultura de massa naquela época. Certamente, o que era evidente entre comentaristas sociais e críticos culturais americanos era uma antipatia generalizada para com a cultura de massa que chegava através das diferenças entre pensadores conservadores e críticos. Mesmo entre os defensores da cultura de massa, o tom justificador era caracteristicamente defensivo e apologético (Jacobs 1964).
Para muitos dos críticos, uma estratégia típica era definir negativamente a cultura de massa como “outra” da alta cultura (Huyssen 1986). Essa convergência na definição e compreensão da cultura de massa como sendo tudo o que a alta cultura não é, ocorreu em circunstâncias em que a concepção de alta cultura que foi valorizada poderia ser (1) geralmente conservadora e tradicional, ou (2) especificamente modernista e vanguardista. Para alguns conservadores, em uma linha de pensamento influenciada por Ortega Y Gasset e T. S. Eliot, ela tomou a forma de uma nostalgia sem prurido por um passado mais aristocrático e supostamente mais ordeiro. Eles tenderam, portanto, a ver a ameaça representada pela cultura de massa como gerada por “abaixo” (por “as massas” e seus gostos). Para teóricos críticos como Theodor Adorno, a cultura de massa servia interesses derivados de cima (os donos do capital) e era uma expressão da expansão exploradora de modos de racionalidade que até então tinham sido associados à organização industrial. O entendimento deste grupo crítico dos atributos de uma cultura altamente modernista é que ela é – ou melhor, aspira a ser – autônoma, experimental, adversária, altamente reflexiva em relação aos meios pelos quais é produzida, e produto do gênio individual. A perspectiva correspondente da cultura de massa é que ela é completamente mercantilizada, emprega códigos estéticos convencionais e fórmulas, é cultural e ideologicamente conformista, e é produzida coletivamente, mas controlada centralmente de acordo com os imperativos econômicos, rotinas organizacionais e requisitos tecnológicos de seus meios de transmissão. A emergência de tal cultura de massa – uma cultura que é forçosamente feita para a população e não feita por ela – serve tanto para fechar a resistência associada à cultura popular e à arte popular como para fechar a seriedade de propósito com que a alta cultura é identificada.
O debate em torno dessa oposição entre a cultura do alto modernismo e a cultura de massa foi, na sua maioria, levado adiante pelos estudiosos das humanidades. O que provou ser um ponto de contacto com os cientistas sociais foi a preocupação destes últimos em saber se o desenvolvimento da modernidade (entendida como um processo social) estava associado à emergência da sociedade de massas. Na medida em que a noção de tal sociedade se baseia no contraste entre os (organizados) poucos e os (desorganizados) muitos, Giner (1976) sugere que a sua longa pré-história no pensamento social e político remonta à Grécia clássica. Assim como na moda, Theodor Adorno tinha visto a fundação da cultura de massa como tendo chegado tão longe quanto o relato de Homero, em A Odisséia, do encontro de Odisseu com as Sereias e o sedutor, mas profundamente insidioso, apelo de Odisseu.
Uma teoria especificamente sociológica da sociedade de massa, porém, com seus antecedentes nos escritos de Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill e Karl Mannheim, é totalmente mais recente. Como formulado por escritores como William Kornhauser e Arnold Rose, essa teoria preocupou-se em destacar tendências sociais selecionadas ao invés de oferecer uma concepção totalizante da sociedade moderna. A teoria, no entanto, avança um conjunto de reivindicações sobre as consequências sociais da modernidade, reivindicações que são tipicamente transmitidas por meio de um contraste estilizado com as características supostamente ordenadas da sociedade “tradicional” ou, menos freqüentemente, aquelas formas de solidariedade, coletividade e lutas organizadas que exemplificam a sociedade “de classe”. Em resumo, as relações sociais são interpretadas como tendo sido transformadas pelo crescimento e movimento em cidades, pela evolução tanto dos meios como da velocidade dos transportes, pela mecanização dos processos de produção, pela expansão da democracia, pelo surgimento de formas burocráticas de organização e pela emergência dos meios de comunicação de massa. Argumenta-se que, como consequência de tais mudanças, há uma diminuição dos laços primordiais de filiação a grupos primários, parentesco, comunidade e localidade. Na ausência de associações secundárias eficazes que possam servir como agências de pluralismo e funcionar como amortecedores entre os cidadãos e o poder centralizado, o que emerge são indivíduos inseguros e atomizados. Eles são vistos como constituindo, numa imagem influente da época, o que David Reisman e seus associados chamavam de “a multidão solitária”. A conduta “outra dirigida” de tais indivíduos não é santificada pela tradição nem é produto de convicção interior, mas sim moldada pelos meios de comunicação de massas e pela moda social contemporânea.
Na versão de C. Wright Mills (1956) da tese, o contraste relevante (e centrado nos meios de comunicação) não era tanto entre o passado e o pré-enviado, mas entre uma possibilidade imaginada e uma tendência social acelerada. A diferença mais significativa era entre as características de uma “massa” e as de um “público”, com estes dois termos (tipo ideal) distinguindo-se um do outro pelos seus modos de comunicação dominantes. Um “público” é coerente com os padrões normativos da teoria democrática clássica, na medida em que (1) praticamente tantas pessoas expressam opiniões quanto as recebem; (2) as comunicações públicas são tão organizadas que há a oportunidade de responder pronta e eficazmente a qualquer opinião expressa; (3) a opinião assim formada encontra uma saída para uma acção eficaz; e (4) as instituições autoritárias não penetram no público, que é assim mais ou menos autónomo. Numa ”massa”, (1) muito menos pessoas expressam opiniões do que as recebem; (2) as comunicações são tão organizadas que é difícil responder de forma rápida ou eficaz; (3) as autoridades organizam e controlam os canais através dos quais a opinião pode ser realizada em ação; e (4) a massa não tem autonomia das instituições.
Como estas imagens implicam, e como Stuart Hall foi subseqüentemente sugerir, o que estava por trás do debate sobre a cultura de massa era o sujeito (não tão) oculto da ”massa”. Contudo, esta era uma categoria social de cuja própria existência Raymond Williams tinha célebremente expressado dúvidas, observando ironicamente que parecia invariavelmente consistir em outras pessoas além de nós mesmos. Tal ceticismo foi compartilhado por Daniel Bell (1962), um pensador de outra forma muito diferente de Williams. Ao criticar a noção de América como uma sociedade de massa, ele indicou os significados e associações muitas vezes contraditórias que se tinham reunido em torno da palavra “massa”. Pode ser feito para significar um público heterogêneo e indiferenciado; ou o julgamento pelo incompetente; ou a sociedade mecanizada; ou a sociedade burocratizada; ou a máfia – ou qualquer combinação destas. O termo era simplesmente pedido para fazer muito trabalho explicativo.
Mais ainda, durante os anos 60, tal esvaziamento da base formal e cognitiva do conceito de cultura de massa foi cada vez mais complementado por desafios empíricos totalmente mais diretos. A emergência de uma contracultura baseada na juventude, o Movimento dos Direitos Civis, a oposição à Guerra do Vietnã, a emergência do feminismo da segunda onda e as contradições e ambigüidades do papel dos meios de comunicação social em documentar e contribuir para esses desenvolvimentos, tudo isso serviu para colocar em questão a tese da sociedade de massa. Além disso, tanto o controle da indústria da música popular por um punhado de grandes empresas (Peterson & Berger 1975) como da produção cinematográfica pelos grandes estúdios foram objeto de sérios desafios por parte de produtores culturais independentes com suas próprias prioridades distintas (Biskind 1998). O resultado (pelo menos durante uma década, até a eventual reafirmação do controle corporativo) foi uma cultura de mídia totalmente mais diversificada. E no que talvez fosse explicável como parte da reação, parte da provocação em relação a uma ortodoxia anterior, o que também surgiu foram instâncias de apoio acadêmico ao estilo populista para a própria noção de cultura de massa – como, por exemplo, no Journal of Popular Culture. Se esta última tendência por vezes demonstrou um entusiasmo irreflectido pela efémera e uma negligência na análise institucional, ela pressagiava, no entanto, o reconhecimento mais amplo da diversidade da cultura de massa que era evidente durante os anos 70 (por exemplo, Gans 1974).
Durante os anos 80, uma ênfase na recepção cultural de formas culturais populares atraiu trabalho empírico inovador (Radway 1984; Morley 1986), numa altura em que a noção de pós-moderno se tinha tornado objecto de atenção crítica sustentada. O pós-modernismo não mostrou nenhum dos antagonismos do alto modernismo em relação à cultura de massa. Pelo contrário, à medida que se multiplicavam as evidências do esbatimento das fronteiras culturais, os praticantes do pós-modernismo ou interrogavam a própria base de tais contrastes entre “alto” e “massa” e as distinções hierárquicas que os sustentavam (Huyssen 1986) ou (de certa forma, de facto) passavam a ignorá-los. Por exemplo, o trabalho em novelas de televisão subverteu a convenção do desprezo crítico por tais textos ao dirigir a atenção para complexidades estruturais tais como múltiplas linhas de enredo, ausência de fechamento narrativo, a problematização das fronteiras textuais e o envolvimento do gênero com as circunstâncias culturais de seu público (Geraghty 1991).
Em suas formas ”clássicas” a tese cultura de massa/sociedade de massa perdeu assim muito de seu poder de persuasão. As permutações contemporâneas de suas reivindicações são, no entanto, discerníveis, por exemplo, nos escritos pós-marxistas de Guy Debord e Jean Baudrillard, e na alegação do crítico conservador erudito George Steiner de que é desonesto argumentar que é possível ter tanto a qualidade cultural quanto a democracia. Steiner insiste na necessidade da escolha. No entanto, é o aperfeiçoamento do conceito de “indústria da cultura”, que pode revelar-se o legado mais duradouro e promissor da tese (Hesmondhalgh 2002). A indústria cultural tinha sido identificada por Adorno e seu colega Max Horkheimer como um termo mais aceitável do que “cultura de massa”, tanto porque ela deu início ao processo de mercantilização como porque identificou o local da determinação como poder corporativo e não a população como um todo. Como originalmente concebido, apresentava uma concepção demasiado sombria e totalizadora do controlo cultural. Uma ênfase na polissemia dos textos mediáticos ou na desenvoltura do público mediático ofereceu uma importante correção metodológica. Mas essas abordagens também poderiam ser exageradas, e a globalização da produção dos meios de comunicação e um ressurgimento da análise institucional e da economia política entre os estudiosos dos meios de comunicação durante a última década reavivaram o interesse pelo conceito da indústria cultural.
- Bell, D. (1962) America as a Mass Society: Uma Crítica. In: O Fim da Ideologia. Free Press, New York, pp. 21-38.
- Biskind, P. (1998) Easy Riders; Raging Bulls. Simon & Schuster, Nova York.
- Gans, H. (1974) Popular Culture and High Culture. Basic Books, New York.
- Geraghty, C. (1991) Women and Soap Opera. Polity Press, Cambridge.
- Giner, S. (1976) Mass Society. Martin Robertson, Londres.
- Hesmondhalgh, D. (2002) The Cultural Industries. Sage, Londres.
- Huyssen, A. (1986) After the Great Divide. Macmillan, Londres.
- Jacobs, N. (Ed.) (1964) Culture for the Millions? Beacon Press, Boston.
- Morley, D.(1986) Family Television. Comedia, Londres.
- Peterson, R. & Berger, D. G. (1975) Cycles in Symbol Production: O Caso da Música Popular. American Sociological Review 40(2): 158-73.
- Radway, J. (1984) Reading the Romance. University of North Carolina Press, Chapel Hill.
- Rosenberg, B. & White, D. M. (Eds.) (1971) Mass Culture Revisited. Van Nostrand, New York.
- Swingewood, A (1977) The Myth of Mass Culture. Macmillan, Londres.
- Wright Mills, C. (1956) The Power Elite. Oxford University Press, New York.
Back to Top
Back to Sociology of Culture.